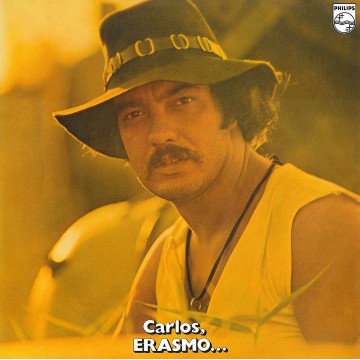Plateia de Curitiba recebe a banda pela primeira vez e faz parte de um espetáculo com um universo próprio de cores, luzes e protagonismo

Textos por Janaina Monteiro e Carolina Genez
Foto: Coritiba Foot Ball Club/Reprodução
Nos minutos que antecederam o primeiro show da turnê Music Of The Spheres em Curitiba (21 de março último), o som de um sino ecoava pelo estádio Major Couto Pereira. Esse tilintar, que assume propósitos distintos em cada religião, traz um simbolismo em comum: representa a harmonia universal.
“Ativar o sininho” antes do espetáculo era como se a banda inglesa Coldplay fizesse um convite para plateia entrar em sintonia e acompanhar o storytelling espacial da jornada que estava prestes a começar. E a missão seria cumprida com sucesso: ao longo das duas horas seguintes, todos alcançariam a mesma frequência e entrariam numa completa catarse.
Quando Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion e Guy Berryman surgiram no palco B, as famosas e “caras” pulseiras luminosas entram em cena e mostram o poder que a multidão tem de abraçar uma banda que acaba de completar 23 anos de carreira fonográfica. Uma trajetória marcada por voos altos e rasantes, que explora diferentes ritmos mas com um denominador comum: olhe para as estrelas.
Céus repletos delas, aliás, sempre estiveram presentes, de alguma forma, nas canções de Coldplay, até inspirarem esse álbum kubrickiano, em que as 12 canções formam um sistema solar próprio. O próximo, muito provavelmente, será sobre o lado brilhante da lua. E desde o big bang coldplayano é possível perceber esse embate entre luz e escuridão. Até que a luz decide tomar conta de tudo. Literalmente.
A primeira canção do show, “Higher Power” já incendeou o estádio como uma bola de fogo. São mais de 43 mil pessoas presentes neste universo iluminado. Cada uma delas se tornou uma estrela. A estrela viva que brilha na vida de Chris Martin desde Parachutes, lançado em 2000.
Predestinado ao sucesso, o britânico da Cornualha e filho do seu Anthony – que faz questão de acompanhá-lo na turnê – previu no documentário Coldplay: A Head Full Of Dreams (lançado há seis anos, após sua separação da atriz Gwyneth Paltrow) que a sua odisseia terrestre começaria logo ahead. Em… 2002! E, de fato, nesse ano Coldplay trouxe ao mundo o disco que o catapultou ao status de uma das maiores bandas dos anos 00. A Rush Of Blood To The Head apresentava sucessos como “Clocks” e “The Scientist” (e seu videoclipe arrebatador, com a narrativa de trás para frente). No início do milênio, o bug não aconteceu e os britânicos conquistavam o mainstream com um som melódico, misturando guitarras elétricas ao piano. Foram três prêmios Grammy.
Nessa época, Chris Martin era um jovem frontman, ainda de espírito meio rebelde, impulsivo, que volta e meia aparecia na mídia sendo acusado de agredir fotógrafos, bem diferente de seu comportamento atual, e seu ritual de gratidão. Hoje, quem tem um celular nas mãos é um potencial paparazzo. Por isso, Chris, que sempre se mostrou arredio a esse tipo de coisa, foi de certa forma obrigado a fazer um “combinado” com a plateia antes de entoar seu hino “A Sky Full Of Stars”. Em cada apresentação, o vocalista lança aquele “xiiiiu” imponente, que faz parte da linguagem universal, sobretudo entre pais e filhos, para milhares de pessoas. Seja na sua terra natal ou no Brasil, onde é mais complicado pedir silêncio.
Educadamente, ele solicita que os presentes aproveitem apenas uma música sem fazer registros pelo celular. 99% do público obedece. Entre o 1% estava uma guria do meu lado. Por isso, fiz questão de colocar o braço na frente da câmera dela. Sorry, aê! Mas pedido do boss a gente obedece.
E foi assim, sem câmera e com um celular tijolinho, que fui ao show da turnê X&Y, em 2007. O terceiro álbum da banda, um dos meus preferidos. Local: Via Funchal, uma casa de concertos em São Paulo com capacidade para apenas três mil pessoas. Aliás, assim como na turnê Music of Spheres, os ingressos foram disputadíssimos. Graças ao meu PC 486 com conexão dial up, consegui garantir um par de entradas. Mais tarde, assistindo ao mesmo documentário, soube que a gravação de X&Y foi conturbada por vários fatores, entre eles a saída do coprodutor do álbum, Ken Nelson. Ao contrário da explosão de cores da turnê atual, a banda se apresentou de preto nessa turnê.
E aquele rock espacial com elementos eletrônicos de “Talk” (que traz um sample de “Computer Love”, do Kraftwerk), “Speed Of Sound” e, claro, “Fix You” me fisgou 100%. Depois desse show, o universo conspirou e consegui me aproximar de Chris Martin, mesmo com receio de sua fama de explosivo. “Você fez parte da cura”, disse a ele, mencionando “Clocks”, canção favorita da minha mãe quando tratava seu primeiro câncer de mama. Já, durante a pandemia, foi “Higher Power” que entrou na playlist da cura do meu carcinoma in situ.
De volta a 2023, antes mesmo de o Coldplay aterrissar em São Paulo, a banda do contra já preparava terreno para eles. No mundinho das redes sociais, uma chuva de meteoros da magnitude haters invadia o meu feed. Era um bombardeio de textos, justificando que “a banda acabou no segundo disco”, “essa banda é pra fã que usa sapatênis” (bem, eu fui de tênis plataforma) e “Coldplay é uma banda coach”. Enquanto uns seguem no “bla, bla, bla”, prefiro pegar carona no “ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooooooh, oh” e viver a minha vida!
Mesmo porque a banda dos contra sempre existirá. O que não existiu até agora foi um espetáculo tecnológico nessas proporções (que deixou o U2 nas Havaianas), com uma estrutura gigantesca em três palcos, aproximando a plateia do artista, e, o mais importante, que promove a inclusão, a sustentabilidade e torna o espectador o protagonista do espetáculo.
Chris era, em Curitiba, como o maestro de uma orquestra, conduzindo suas estrelas, com sua mensagem clara como a luz da lua, sempre estampada no peito (“Love” e “Everyone is an alien somewhere”). Ele corria freneticamente pela passarela e aproveitava cada centímetro da megaestrutura, do palco principal até o palco B, onde cantou a belíssima “Viva La Vida”, do álbum de mesmo título produzido por Brian Eno e que representou um salto na carreira dos ingleses. De lá, entoaram também “Something Just Like This”, uma canção fofa, graciosa, sobre heróis da vida real e que, por sinal, era o sinal do recreio do meu filho na escola. No palco C, lá no fundo do estádio, surgiram para cantar “Magic”. Dessa vez, na versão aportuguesada, repetindo a performance do Rock In Rio em 2022 (concerto que fez a banda postergar a turnê brasileira para 2023, aliás). No Couto Pereira, não tivemos sandys, nem jorges, nem miltons. Mas tivemos “Every Teardrop Is A Waterfall”, do álbum Mylo Xyloto (2011). Inclusive, essa fora a segunda vez que a canção entra no setlist da turnê. No dia seguinte, para alegria dos fãs na capital paranaense, teve “Orphans”, do introspectivo Every Day Life.
Como Chris Martin se movimentava na “velocidade do som”, é muito fácil perdê-lo de vista ao vivo. Isso explica o uso de bases pré-gravadas. Mesmo estando em plena forma, é difícil conseguir tanto fôlego assim. Enquanto o vocalista cantava e passeava pelo seu universo, durante boa parte das canções, Jonny, Will e Guy permaneciam em suas posições no palco principal, curtindo o próprio show, como se fossem músicos de apoio.
Quando revisitam os hits mais antigos e que catapultaram a banda ao estrelato, como “Yellow”, “The Scientist” e “Clocks”, os ingleses mostram que tocam de verdade. Na primeira, o coro da plateia chegou a emocionar Chris Martin, que dizia “beautiful”. Lindo mesmo foi poder ver Jonny dedilhando o riff a poucos metros de distância. Já na segunda, houve um problema na modulação das guitarras e foi preciso interromper a música. Em vez de voltar ao start, entretanto, seguiram da metade.
No final de toda essa viagem estelar, cheia de luzes, com direito a planetas infláveis (alguns deles voltaram pra casa de ônibus biarticulado, inclusive) e que reuniu um público tão diverso, de crianças a idosos, o que ficou foi a prova da evolução. As letras mais recentes do Coldplay podem até soar um pouco repetitivas. Mas talvez não estejamos acostumados a tamanha positividade e de uma banda que alcançou um séquito de fãs por mérito e não por ter caído de paraquedas.
Claro que sempre haverá a turma do contra. O importante é saber conviver com ela. E isso o tal do Cristóvão João Antônio Martins parece ter aprendido direitinho. E isso é “Biutyful”! (JM)
***
A experiência do primeiro dos dois shows do Coldplay em Curitiba (21 e 22 de março) começou já na fila quilométrica para o estádio Major Antônio Couto Pereira. Os fãs cantavam as músicas e comemoravam a cada curva que os deixava mais próximos da entrada. Com a pulseira no braço, a noite foi aberta pelo trio escocês Chvrches. Mesmo com eles entregando a alma em sua performance, os fãs apenas chamavam os astros ingleses para o palco. Com o Couto lotado e quase nenhum espaço livre entre as mais de 40 mil pessoas, a banda entrou às 21h ao som da música “Flying Theme”, do filme E.T.– O Extraterrestre, de Steven Spielberg. Isso já deixava claro que a noite seria mágica.
O set list apresentado pelos britânicos começou com “Higher Power”, Mesmo particularmente não gostando, a canção se tornou uma experiência inesquecível. Todo show tem uma atmosfera mágica, capaz de transportar qualquer um para outra realidade durante as duas horas de duração. O Coldplay, porém, conseguiu subir o nível desta virtude artística. As pulseiras brilhantes se tornaram um espetáculo à parte ao iluminar todo o estádio de acordo com as batidas de cada música. De certa forma, o público virou parte da performance da banda. A noite ainda contou com fogos de artifício, balões em formato de planetas (fazendo referência ao novo álbum deles), luzes coloridas e muitos confetes que tornaram tudo ainda mais bonito e especial. É até difícil escolher um destaque máximo. Para mim, o grande espetáculo aconteceu durante “Clocks”, quando todo o estádio assumiu uma cor verde que brilhava acompanhando as notas dedilhadas ao piano enquanto um show de luzes formava um céu também esverdeado e projetado em cima da plateia.
O ânimo da banda também era contagiante. Consgeuia deixar todos alegres e animados do começo ao fim. Ajudava também o engajamento de Chris Martin com seus fãs. O cantor falou em português, leu diversos dos cartazes levados pelo público, pediu para a plateia completar as letras e cantar junto com ele durante músicas como “Paradise” e “Viva La Vida”. O que tornou a experiência ainda mais única foi na hora de convidar uma fã para tocar uma música com ele. O cantor ainda desceu do palco principal para se apresentar em um espaço menor disponibilizado no meio da plateia. Lá mandou “Sparks” e uma versão em nosso idioma de “Magic”. “Chamo de mágia”, começou, com aquele sotaque.
O final do show também foi maravilhoso. A performance de “FixYou”, penúltima do extenso repertório, ficará, com certeza marcada na mente de todos os fãs que estavam presentes naquela noite do Couto Pereira. Todas as pulseiras brilhavam em um amarelo dourado enquanto Chris, ainda com toda energia do mundo, cantava o refrão (“Lights will guide you home/ And ignite your bones/ And I will try to fix you”). Pouco depois,quando começou a gravação de “A Wave”, todos foram embora radiantes e “consertados” com toda aquela vibração transmitida pela banda. (CG)
Set list em Curitiba: “Music Of The Spheres” (intro), “Higher Power”, “Adventure Of A Lifetime”, “Paradise”, “The Scientist”, “Viva La Vida”, “Something Just Like This”, “Fly On”, “MMIX”, “Every Teardrop Is A Waterfall”/”Orphans”, “Yellow”, “Human Heart”, “People Of The Pride”, “Clocks”, “Infinity Sign”, “Hymn For The Weekend”, “Aeterna”, “My Universe”, “A Sky Full Of Stars”, “Sparks”, “Magic” (em português), “Humankind”, “FixYou”, “Biutyful” e “A Wave” (outro).